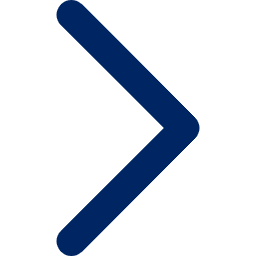Fair Play financeiro deve redefinir dívidas e investimentos no futebol brasileiro, diz Gluck Paul
Em entrevista, o presidente da Federação Paraense de Futebol, falou sobre os avanços nas categorias de base, a reestruturação da arbitragem e do futebol feminino, e o desafio de consolidar um modelo sustentável para os clubes

Leia a entrevista na íntegra:
O senhor presidiu a comissão que estruturou o fair play financeiro da CBF. Que impacto econômico esse modelo deve gerar na saúde dos clubes e no fluxo de investimentos no futebol brasileiro? Direitos de transmissão, apostas esportivas e patrocínios ganharam peso nas receitas do futebol. Como esses mercados têm afetado os clubes da região Norte e quais são as perspectivas de crescimento?
Ricardo Gluck Paul: Essa comissão é formada por alguns notáveis, como Caio Rezende — um consultor, autor de um livro sobre fair play financeiro, que, recomendo, analisa profundamente o tema; César Grafiete; Pedro Ernet, novo CEO do Atlético; e uma equipe que conta com Matheus Sena, diretor de planejamento, e Helder Melino, diretor-executivo da CBF. Esse grupo trabalhou o fair play em debate com 34 clubes e 10 federações. Tenho afirmado que a forma de discussão — a maneira como a CBF conduziu esse trabalho — é inédita e tão relevante quanto o próprio fair play. Pela primeira vez, tivemos um grupo de trabalho formado por federações, clubes e a CBF, que se debruçou sobre o tema. Houve várias reuniões. Como isso vai impactar o futebol brasileiro? É importante olharmos um pouco para o retrovisor para podermos projetar o futuro.
Há 20 anos os clubes europeus passaram por um período em que muitos contratavam apostando alto, gerando grande endividamento. A maior fonte de dívida é a formação de elenco — não é a estruturação de CT ou a infraestrutura da sede. A maior fonte de débito é o elenco: clubes contratavam apostando no futuro, mas além daquilo que realmente podiam pagar. Só que isso não é sustentável — no final, a maioria não conseguia se manter. Então houve, a partir disso, um grande processo de endividamento, o que levou a um colapso. Por isso, foi necessário criar medidas para sanar essa situação na Europa. Surge, nesse cenário, há 20 anos, o fair play da UEFA, com uma série de regras destinadas a proteger os compromissos com atletas, clubes e governo. Para que isso funcionasse, começou-se a analisar o grau de endividamento dos clubes e a impor um limite de custo de elenco, baseado na capacidade desses clubes de gerar receita. Isso foi feito há duas décadas. Depois, outras ligas aderiram e criaram seus próprios modelos, baseados na UEFA. Há um conceito chamado “too big to fail” (“grandes demais para quebrar”). Os clubes de futebol eram considerados grandiosos demais para falir. Como isso existia, o Estado se envolvia — criando projetos de financiamento e crédito. Só que esses sistemas mostraram que os clubes, sim, podem falir. E precisamos garantir a sustentabilidade de todo o ecossistema. Depois disso, os clubes passaram a ter uma realidade mais equilibrada: passou-se a exigir que gastassem menos do que ganham — que é, simplificadamente, o objetivo do fair play. A história mostra que esse conjunto de regras foi bem-sucedido.
Agora, olhando para frente, o Brasil passou por um processo similar ao “too big to fail”: clubes brasileiros chegaram a dever bilhões em impostos ao governo. Criou-se o PROFUT na tentativa de equacionar essas dívidas, mas hoje os clubes devem ainda mais. O país viveu um momento de enormes fluxos de investimento: as SAFs, as empresas de apostas, e as ligas que negociam direitos de transmissão. Tudo isso ampliou muito o volume de recursos. Hoje nunca se viu tanto dinheiro ingressando no futebol quanto nos últimos três anos. Mas a escalada de dívidas também se tornou sem precedentes. Mesmo com todo esse dinheiro, os clubes se endividaram ainda mais. Isso ocorreu porque não havia um arcabouço de regras visando a sustentabilidade — o fair play. A importância disso é garantir o sucesso sustentável dos clubes e o equilíbrio do nosso ecossistema. Não tenho dúvida de que daqui a quatro anos vamos olhar para trás e ver os efeitos dessas regras. Hoje há uma agência que vai comandar o fair play, com um conjunto de regras e sanções. As sanções são esportivas — como perda de pontos e rebaixamento — e outras, mais brandas, como advertências, espécie de TAC.
Qual é o peso econômico do futebol no Pará hoje, em termos de geração de empregos, arrecadação e impacto em setores como turismo e serviços? Há projeções atualizadas da FPF?
A FPF não é um órgão arrecadador; fomentamos o futebol. Nosso orçamento gira em torno de alguns pilares: temos um auxílio financeiro da CBF; temos um percentual da arrecadação dos clubes — 10% da bilheteria estadual e 5% da regional —, e temos os patrocínios. Isso varia bastante. Quando assumimos a federação, o plano de captação de patrocínios era muito modesto; aumentamos consideravelmente, mas estamos chegando ao limite. A projeção de arrecadação depende diretamente dos clubes. Com o Remo na Série A espera-se uma arrecadação de bilheteria muito maior, o que impacta a gente. Pagamos nossas contas e fomentamos o futebol. Quando dizemos que realizamos mil jogos de base, arcamos com arbitragem, transporte etc. Há três anos isso era pago pelos clubes — agora conseguimos sustentar esse universo.
Presidente, estás na Federação indo pro seu segundo mandato, queria que começasse fazendo um balanço e uma análise da sua passagem pela Federação até aqui. O senhor avalia como positivo?
A Federação, na realidade, ainda está no primeiro mandato, que encerra em 29 de junho de 2026. Então ainda temos cerca de oito meses para fechar esse primeiro ciclo. Já houve a reeleição, porque o estatuto tem datas específicas para isso, e estamos reconduzidos para mais quatro anos, até 2030.
Mas já dá para fazer um balanço bastante positivo, na minha visão. Quando assumimos, havia uma necessidade muito clara de fazer o futebol acontecer, principalmente nas categorias de base. Na época, o Pará tinha apenas cinco competições por ano: o profissional masculino e feminino, o sub-20, o sub-17 e a famosa “Segundinha”, que nós já remodelamos.
Quando a gente olhava o ranking de federações, o Pará aparecia na última colocação do Brasil em número de competições — empatado com Acre e Rondônia. São Paulo, por exemplo, realiza entre 30 e 35 competições por ano; o Rio de Janeiro, mais de 70. E o Pará, com toda a sua importância, história e representatividade, não podia estar estagnado dessa forma.
Isso trazia muitos prejuízos, especialmente para a base, que depende da minutagem dos atletas. Quando eu era presidente do Paysandu, sempre me perguntavam por que o clube não aproveitava mais os jogadores formados aqui. E a resposta era simples: quando chegavam aos 18 ou 19 anos, na transição para o profissional, esses garotos tinham, em média, só 15 ou 20 jogos na carreira — é muito pouco.
Pra você ter uma ideia, um atleta de base de um clube como o Palmeiras chega ao profissional com cerca de 200 jogos. Isso faz uma diferença enorme no desenvolvimento e na confiança. Por isso, nosso foco principal foi dar minutagem e criar estrutura para os jovens jogarem mais.
Hoje, o Pará tem 37 competições, e em 2026 devemos ultrapassar as 40 — um salto gigantesco em relação às cinco de antes. Estruturamos o futebol em eixos: base, profissional, feminino, municipal (ligas) e arbitragem.
Na arbitragem, promovemos uma renovação inédita: 80% do quadro foi renovado. Apostamos em novos árbitros e estamos colhendo resultados concretos. Hoje temos árbitros atuando nas Séries A, B, C e D do Brasileiro, e também no futebol feminino, como a Gleica, que recentemente apitou Corinthians e Flamengo — um jogo de destaque nacional.
Também investimos em tecnologia. A Federação Paraense foi uma das poucas do país a implantar o VAR próprio, o que coloca o nosso futebol em outro patamar técnico e de credibilidade.
No futebol profissional, criamos novas competições — como a Supercopa Grão-Pará e a Copa Grão-Pará — e reestruturamos a Série A1, A2 e A3. A antiga “Segundinha” era uma competição muito grande, às vezes com 26 clubes, o que tornava inviável o patrocínio, a transmissão e a logística. Hoje, com 12 clubes por série, conseguimos enxugar custos, dar visibilidade e garantir cotas. Pela primeira vez na história, os clubes receberam R$ 50 mil de cota — um marco de sustentabilidade e de valorização das equipes.
Antes, os clubes arcavam com todos os custos e, muitas vezes, terminavam endividados. Isso levou ao desaparecimento de times tradicionais. Agora, a lógica é de sustentabilidade: quem participa tem segurança financeira.
No futebol feminino, passamos de uma competição para dez. Na base, criamos as categorias sub-15, sub-17 e sub-20, algo que nunca existiu no calendário estadual. No futebol municipal, a Federação banca 80 competições e organiza o Intermunicipal, que reúne mais de 100 seleções e cerca de 20 mil atletas.
Esse Intermunicipal, inclusive, é patrocinado por grandes empresas — como a Google, que hoje é parceira da Federação dentro de um conceito de sustentabilidade e inclusão.
Agora, o nosso foco é fortalecer essas “caixinhas” — base, profissional, feminino, municipal e arbitragem. Elas já estão criadas e funcionando; o próximo passo é aprimorar, modernizar e consolidar.
É um balanço bastante positivo, claro, com desafios, especialmente as paralisações de competições por decisões do Tribunal de Justiça Desportiva, que impactam o calendário e o andamento dos campeonatos.
Essas paralisações, que acabam ocorrendo com certa frequência, são resultado de falhas dos clubes ou a Federação também tem trabalhado para mitigar essas situações?
A partir desta temporada, vamos [a federação] agir de forma mais firme nesse tema. Os clubes têm total liberdade de denunciar irregularidades ao Tribunal, isso faz parte do processo, mas o que vínhamos observando é que muitas denúncias eram feitas nas últimas rodadas, com objetivos estratégicos — por exemplo, para evitar um rebaixamento ou mudar o chaveamento.
Quando isso acontece, a competição precisa parar, porque pode haver alteração de pontos e cruzamentos. Isso gera insegurança, atrapalha o planejamento dos clubes e prejudica todo o campeonato.
Para evitar esse tipo de situação, a Federação passará a fazer as denúncias imediatamente, assim que detectar qualquer irregularidade. Não é um papel agradável, mas é necessário para garantir a lisura e evitar paralisações. É uma forma de proteger o campeonato e os próprios clubes que jogam dentro da regra.
Agora, mudando de assunto, o senhor assumiu recentemente um papel nacional, como vice-presidente da CBF. Como tem sido esse novo desafio?
Houve um movimento importante na CBF após o afastamento do ex-presidente Ednaldo Rodrigues. Surgiu um grupo de novos líderes estaduais e nacionais, e eu participei diretamente dessa articulação que resultou na escolha do Samir, nosso atual presidente. Ele reúne todas as qualidades necessárias, é uma pessoa de diálogo, moderna, e, o mais importante, é nortista — de Roraima, inclusive já morou no Pará.
Essa conjuntura é muito positiva para o futebol paraense. Esses próximos quatro anos têm tudo para ser os melhores da nossa história, porque a região Norte passa a ter protagonismo dentro da CBF.
Fui designado para presidir o grupo de trabalho do Fair Play Financeiro, que vai apresentar, agora em novembro, as novas regras de responsabilidade fiscal do futebol — ou seja, gastar apenas o que se arrecada. Isso é fundamental para garantir a saúde financeira dos clubes.
Além disso, assumi a presidência do Comitê de Sustentabilidade da CBF, que vai trabalhar em três eixos principais: meio ambiente, governança e social.
Criamos também as ODFs — os Objetivos do Futebol Sustentável —, inspiradas nas ODS da ONU. Essa iniciativa vai alinhar o futebol brasileiro aos compromissos de sustentabilidade globais. Essas metas foram lançadas oficialmente durante a COP 30, em novembro, o que é um orgulho enorme pra todos nós.
Falando agora dos clubes paraenses, o Remo vive um momento positivo, enquanto o Paysandu, que o senhor já presidiu, passa por dificuldades. Como o senhor vê esse cenário?
O Remo fez um trabalho extraordinário e merece todos os elogios. O Tonhão, presidente, tem mostrado resiliência e paciência, que são essenciais no futebol.
O Paysandu vive um momento delicado e vai disputar novamente a Série C, mas tem potencial para retornar à Série B e, depois, à Série A.
Também vale destacar a Tuna e o Águia, que disputaram a Série D e têm potencial para subir à C. Nosso objetivo é ter cada vez mais clubes paraenses nas divisões nacionais.
Uma notícia que tem ciruclado entre as torcidas é que o Clube do Remo e a Tuna estão em processo de reconhecimento de títulos nacionais. Como está esse andamento? Essa possiblidade é real?
O Remo montou uma comissão de pesquisadores muito competente para reunir documentos sobre campeonatos das décadas de 1960 e 1970. Um deles é o Torneio Norte-Nordeste, de 1971, em que o Remo foi campeão. Toda a documentação já foi encaminhada à CBF, e eu mesmo vou acompanhar o processo pessoalmente.
Também estamos trabalhando para que a Tuna tenha o reconhecimento da Taça de Prata, que equivalia à antiga Série B. O material está muito bem fundamentado, com atas, reportagens e registros oficiais. Eu acredito que a CBF vai reconhecer, sim, esses títulos, que são parte importante da história do futebol brasileiro.
E quanto ao futebol feminino? O que já avançou e o que ainda precisa melhorar?
O futebol feminino ainda é um desafio. Criamos as competições, o que era a principal demanda, mas o problema agora é o financiamento. Fazer futebol é caro.
Hoje, todas as competições são custeadas pela Federação — desde arbitragem até delegados —, mas manter os projetos dos clubes é difícil. Precisamos criar mecanismos de sustentabilidade, com cotas, patrocínios e leis de incentivo.
As estruturas de campo já existem; o desafio é garantir que os clubes possam manter as equipes.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA