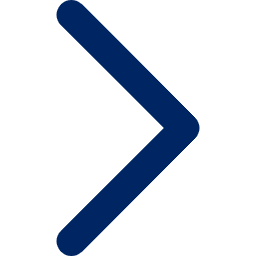Guamá e Terra Firme: bairros reconstroem o quilombo
Movimento de conscientização reacende esperança de revalorização de temas próprios da cultura ainda presente em Belém

Os bairros da Terra Firme, Guamá e Jurunas concentram aglomerações históricas da população negra. Há áreas que devido a essa concentração, ganharam a denominação de quilombos urbanos. O geógrafo e professor doutor Aiala Colares destaca que essa presença quilombola remonta às origens desses bairros. As ocupações tiveram diferentes povos, mas a maioria vem do nordeste paraense e do Maranhão.
Os quilombos urbanos estão se reposicionando, socialmente, como redutos de preservação da história e cultura desses povos. O mais antigo desses existente em Belém começou no bairro do Jurunas, na década de 1940. E com uma característica especial: quilombolas ribeirinhos, frutos de uniões com indígenas. Inicialmente, muitos ocupavam as margens de onde hoje ficam a Avenida Bernardo Sayão e a Estrada Nova. A modernidade acabou por desfazer essas ocupações, com projetos como o Portal da Amazônia.
Essa acabou sendo uma organização mais fragilizada e fragmentada. Aiala destaca que os quilombos urbanos da Terra Firme e do Guamá têm uma estrutura mais sólida. O autorreconhecimento da identidade quilombola, no entanto, não é total. Muito trabalho tem sido feito, por organizações e movimentos sociais e a academia, para a valorização dessa identidade. É um processo de transformação que requer tempo, segundo ele, mas ao menos já começou.
Os jovens negros são o principal público dessa iniciativa de conscientização. Muito da cultura quilombola já se perdeu, lamenta Aiala. O número de terreiros de religiões de matriz africana caiu, ao passo que muitos descendentes se converteram a religiões cristãs. Grande parte foi para igrejas neopentecostais, que têm grande capilaridade nas áreas periféricas. Historicamente, adotar religiões cristãs foi uma forma de defesa de muitos afrodescendentes. E assim nasceu o sincretismo religioso, que tenta equiparar as divindades de matriz africanas com santos católicos.
Também se perderam algumas profissões: benzedeiras, parteiras, erveiras — que acabou se tornando algo mais icônico do Ver-O-Peso - e os massagistas “puxadores” (que sabem puxar e recolocar músculos torcidos). A capoeira ainda se mantém viva e mestres continuam se formando, mas mais afastados dos conceitos originais. Contudo, a luta saiu das ruas e ficou confinada em academias.
“O que não se perdeu foi o contato com o quilombo”, garante Aiala. “Até hoje, em datas comemorativas, várias pessoas se organizam e lotam ônibus para ir aos quilombos. Quem é da região do Codó, no Maranhão, até hoje vai pras festas de radiolas de reggae. Estamos trabalhando nesse autorreconhecimento e no resgate e preservação da história, cultura, religião, costumes”.
Esse autorreconhecimento é importante, ressalta o professor, porque devolveu direitos aos jovens quilombolas. Antes, muitas vagas nas universidades, destinadas a esse público, eram perdidas. Agora há presença e representação desse povo no ensino superior, estudando e produzindo conhecimento que perpetua a história quilombola paraense.
Passagens levam a marca dos pretos
Alguns dos principais quilombos urbanos da Terra Firme e do Guamá estão hoje na Rua dos Pretos (como é conhecida a Passagem Bom Jesus), na Rua São Domingos, na Passagem Santa Helena e na Passagem 24 de Dezembro. Foram nessas ruas que chegaram os primeiros quilombolas às áreas de Belém em expansão, na década de 1950.
As primeiras famílias a chegar foram a Colares (do professor Aiala), a Moraes, a Pontes e a Maia, entre outras. Na Rua dos Pretos - nome hoje usado com orgulho por uma parte da população quilombola da Bom Jesus -, uma parte considerável dos moradores é da região do Codó, no Maranhão, que vieram com a abertura da Rodovia Belém-Brasília. Na 24 de Dezembro há presença de quilombolas de Castanhal, Inhangapi e Igarapé-Açu. Um dos tios de Aiala, Oscar, que morreu recentemente, ajudou a fazer o traçado original da São Domingos.
A família Colares e a família Pontes fundaram o quilombo Pitimandeua, em Inhangapi, no início do Século XX. Quando uma família chegava a uma das ocupações, a notícia se espalhava e chegava aos quilombos. Outras famílias se deslocavam ou se formavam e assim os quilombos urbanos iam se delineando, mas o elo com o quilombo original não se perdia.
No começo, Aiala aponta, quando as mulheres engravidavam, iam para o quilombo parir, quando alguém adoecia, ia para o quilombo se tratar. Muitas famílias dos primórdios da Terra Firme e do Guamá se mantinham das vacarias e da venda de alguns produtos originários dos quilombos. Uma das poucas atividades que se mantém até hoje é a venda da farinha de mandioca nas feiras.
Apesar das ocupações, movidas principalmente pelos quilombolas, muitos projetos e desenhos para a Terra Firme e o Guamá só ocorreram durante a ditadura militar. Foi quando a estruturação racista se delineou, tanto pela falta de melhorias quanto pela repressão à cultura, religião e organização social. “Até hoje, algumas das ruas de quilombos urbanos permanecem sem nenhum melhoria”, critica Aiala.
O desemprego avançou, o racismo acuou a população negra na pobreza e foi como o crime encontrou mão de obra, nas periferias e no povo preto. Aiala lembra a quantidade de mortes de jovens negros nas áreas periféricas. Para muitos, todas as condições eram favoráveis à entrada no crime. Assim, esses bairros se desenvolveram vendo a ação repressiva e agressiva da polícia e depois a atuação de milícias. Todo um ciclo difícil de romper sem soluções amplas.
“Toda a história tem sido difícil, mas acredito que hoje em dia vivemos num período ainda mais repressivo, intolerante e violento com os negros, com a cultura, com as religiões de matriz africana”, alinhava. “Mas a existência e preservação dos quilombos urbanos é importante para compreender a cultura ancestral, a identidade, as estruturas sociais e a história de resistência contra as perversidades”.
Pitimandeua regenera o filha de Iansã
Na Passagem Santa Helena, na Terra Firme, cujo chão até hoje é de terra e lama, vive dona Carmem de Iansã, o nome de missão de Carmem Marinho, de 54 anos. Ela se orgulha de ser quilombola e da história dos ancestrais. Orgulha-se de viver a religião dela, orgulha-se dos hábitos. Orgulha-se de repassar tudo à filha e à neta e - sempre que a energia falta - retorna ao Quilombo Pitimandeua. “Quando saio de lá, volto fortalecida”, conta.
Chegou ao bairro da Terra Firme pouco antes dos 4 anos, saída do quilombo. Foi lá que descobriu os dons de contato com o mundo espiritual e aprendeu tudo o que vinha desde os tataravós. Sorrindo, lembra de tudo que viu em casa: os partos naturais, as rezas, as benzedeiras, a alimentação que reunia famílias e amigos, a raspagem da mandioca para fazer farinha, os banhos das mulheres nuas no Igarapé Menino Jesus - que incluíam lavagem de roupa e de louças).
Carmem não passou pelo tempo sem sofrer com o racismo. O tambor no terreiro dela foi por vezes denunciado à polícia, mas ela se posicionou e hoje vive, com mais liberdade, a própria religião. Se tiver de sair, sai sem medo, com toda a indumentária e acessórios. Lamenta que os turbantes sejam vistos como objetos de moda simples. Na cultura dela, de seus ancestrais, os turbantes tinham função de proteção espiritual e também de posição social hierárquica.
Também fica triste com tantos negros abandonando as religiões de matriz africana. Após a conversão, renegam origens e assumem preconceitos. “Hoje vejo mais gente branca nos terreiros”, contabiliza. “Infelizmente, se um negro sai de branco, turbante e suas guias, é visto com receio. Se um branco sai assim, ninguém liga”. Da mesma forma, não entende tanto preconceito com a cultura ancestral do povo negro, já que tantas coisas se originaram com eles. O uso de ervas, por exemplo, e alguns alimentos.
A filha de Carmen, Ketlen Tavares, de 21 anos, todos os dias redescobre a identidade quilombola e fala com muita alegria que deu à mãe uma neta quilombola pura: Ana Gabriela, de 7 anos. Ela abraçou a religião da mãe e dos ancestrais. Aos 20 anos, deixou de alisar os cabelos e adotou as características do povo. Chama, com carinho, o Quilombo Pitimandeua de “Meu Quilombo”. “Vivo realizada. Temos aqui em casa algumas tradições e costumes. Temos o nosso cafezinho da tarde com todo mundo reunido. Criamos animais, temos as árvores, tudo graças à nossa mãe”, analisa.
“Comecei a compreender isso quando tive minha filha e vou repassar tudo para ela, manter vivo. É uma grande responsabilidade. Mas quando vamos no meu quilombo, nos renovamos”. Carmem vê na filha o sonho que queria para toda a população negra quilombola: o orgulho de assumir a própria identidade. “Gostaria que as próximas gerações estudassem e entendessem nossa cultura, nosso modo de vida, nossa religião. Queria que não se escondessem, no futuro. Que preservem. E um dia, sonho em voltar e viver definitivamente no quilombo”, atestou.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA