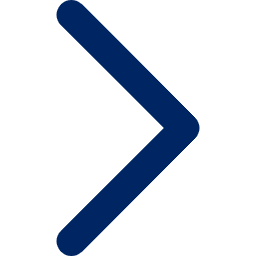O revés do parto
O momento deveria ser de alegria, mas dados da ONU mostram que a cada dois minutos uma morte é registrada por complicações na gravidez e parto. É a violência obstétrica, que marca a vida (e morte) de centenas de mulheres e bebês

A violência no parto marcou a comunicadora Nathalia Fonseca. Ela tinha 16 anos quando teve a primeira filha, Gabriela, e passou uma cesariana. “Fui primeiro a uma maternidade, como estava com um centímetro de dilatação e estava tudo bem, me mandaram para casa. Um dia depois, a família inteira estava preocupada e por isso fui a outra maternidade. Fizeram toque e identificaram dois centímetros de dilatação. Passei cinco horas com ocitocina. Mas não evoluiu, porque a ocitocina só funcionaria com trabalho de parto ativo. Ouvi coisas, do tipo: que eu não teria condições de parir por causa do meu tamanho. Apesar disso, até que fui bem tratada, mas ouvi coisas horríveis ditas para outras mulheres. ‘Na hora de fazer não gritou’. Havia uma moça andando para a sala de parto, depois de horas com ocitocina. A perna dela fraquejou e a enfermeira disse que ‘se ela caísse, ficaria no chão e o filho nasceria lá, porque não iria ajudá-la a se levantar’. Mesmo não sendo comigo, me afetou muito! Fiquei com muito medo e comecei a chorar”, afirma Nathalia.
Mesmo passando por uma cesariana, ela fala que a experiência não foi boa. “O processo da cirurgia é bem violento porque eu estava lá com a barriga aberta. Os dois médicos estavam conversando sobre banalidades da vida. Como se eu fosse um pedaço de carne, sem nenhuma subjetividade. Eu fiquei acordada o tempo inteiro e ouvi falarem sobre a viagem do fim do ano, carros, problemas na família e sentindo o meu corpo balançar, o cheiro de queimado e tirarem a minha filha de dentro de mim. Na época, eu não tinha muita informação, além de que o parto normal doía muito; que é preciso ser muito forte. Da cesárea, o que recebi como informação foi durante a anestesia peridural. O médico disse: ‘olha, Nathalia vou te aplicar uma anestesia. Vai ser na coluna vertebral. Não podes te mexer, senão vais ficar paraplégica. Então, é bom que tu não te mexas”, destaca.
Quatro anos depois, quando ela engravidou novamente, decidiu que queria experiências diferentes. Estudou, frequentou um grupo de apoio e escolheu um parto domiciliar. “Eu já havia entendido os processos de violência sobre o meu corpo, durante a primeira maternidade. Já entendia tudo o que eu não podia fazer. Disseram que eu não poderia estudar, não poderia amamentar, que era muito difícil, porque com a cesárea o leite demora a descer e tive todo um processo de adoecimento e depressão pós-parto. Na segunda criança, eu busquei tudo o que poderia fazer. Entendi que queria parto domiciliar, mas era caro e consegui negociar para ter meu filho em casa”. Em um primeiro momento, a família se assustou, mas todos respeitaram. Já na hora do parto, todos se envolveram e Enzo nasceu saudável e foi direto para o colo da mãe.
O caso Ana Carolina e Laurie
Deveria ter sido um momento lindo da vida de Ana Carolina Santiago. A moça, de 18 anos, estava grávida de sua primeira filha, Laurie, e não teve nenhum tipo de intercorrências durante a gestação. Mas, infelizmente, o parto não ocorreu como o planejado: mãe e bebê morreram. Casos como o de Ana Carolina não são raros e, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), todos os dias, mais de 800 mulheres morrem por complicações na gravidez e durante o parto.
Já se vão quase sete anos desde a morte de ambas e a família ainda sente as marcas daquele dia. “Até hoje não comemoramos o Natal porque ela morreu nesse dia”, comenta Lena Santiago, tia de Ana Carolina. Ela lembra que a moça havia completado 18 anos no dia 12 de dezembro, que era muito estudiosa e tinha alcançado boas notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que era muito apaixonada pelo marido e estava muito feliz com a chegada da filha.
O Caso de Ana Carolina Santiago ganhou as manchetes dos jornais do estado e até do país. A médica inicialmente foi indiciada por homicídio doloso, mas a Justiça reverteu para culposo. O Conselho Regional de Medicina julgou o caso e a puniu com uma censura pública em Diário Oficial.
“Ana Carolina fez 18 anos, no dia 12 de dezembro de 2012 e morreu no dia 25. Ela estudava. Tinha feito o Enem e tinha tido êxito. Era uma menina muito calma. Muito estudiosa. Só vivia com cadernos na mão. O Luiz Carlos foi o primeiro namorado. Ficaram juntos e ela engravidou. O pré-natal foi maravilhoso, ela não se queixava de nada, nem enjoo. A Laurie foi uma criança muito esperada. A família inteira ficou muito feliz. Ela ganhou muita coisa no chá de bebê. No dia 24 de dezembro, ela já estava sentindo umas cólicas. O meu sobrinho, que tinha carro, a levou para o hospital. Ela ficou de 16h até de madrugada sofrendo muito. Gritaram com ela o tempo todo, dizendo que ela era frouxa, que não sabia fazer força e que se a bebê morresse, seria culpa dela. Montaram na barriga dela! Fizeram muita força! Ela foi transferida para a Santa Casa, no carro da técnica de enfermagem. Estava sangrando muito. Pegou todo o trânsito da véspera do Natal. Fizeram a cirurgia e tiraram útero. Ela foi levada para a UTI. Foi quando soubemos que a criança tinha falecido. Tiraram do útero, botaram o corpo da criança no saco e entregaram para a família. Fui eu quem deu banho nela, vesti e botei no caixão. Umas 9h30, a mãe dela disse para eu visitar a Carolina, que ela iria fazer o enterro da criança. Quando ouvi os gritos. Vi minha irmã, o marido da Ana Carolina, a sogra, a cunhada e dois médicos. E percebi que algo grave tinha acontecido... Ela foi muito maltratada. Não deram direito a acompanhante, porque disseram que ela já estava com 18 anos.
Depois de muito tempo, foi que deixaram o pai entrar. Ele fazia carinho nela e saía para chorar, vendo o estado da Carol. Eu entendo que o marido jamais iria bater de frente com a autoridade da médica. Ela sofreu de 16h até de madrugada, quando foi transferida. Pularam em cima da barriga dela. Não botaram oxigênio. A minha sobrinha foi tratada como bicho. Eu que liberei o corpo dela. Trouxemos os corpos para casa e fui para a delegacia. Vinte dias depois ainda não havia inquérito. No Dia 26 já estava na capa dos jornais. Eu ficava tão chateada, porque a mídia não saia de cima da gente! Eu mudei de delegacia. Dizia para eu ir em tal lugar e eu ia. Até nos mandaram para a DIOE, que instauraram o inquérito. Eu fiquei totalmente dormente, que não saía uma lágrima do meu olho. Agradeço a Deus porque eu consegui agir com a cabeça, não com o coração. A família ficou vulnerável, a minha irmã e minha mãe tocam muito no nome da Carol. Eu sou a que mais leva as coisas para frente. Busco justiça, para que não venha a acontecer com outras famílias. A gente sabe que a Ana Carolina e a Laurie não vão voltar. A médica foi considerada culpada e a pena foi uma nota no Diário Oficial, o que, para mim, parece como impunidade”, relatou em detalhes Lena Santiago, tia de Carol.
Violência obstétrica
O que ocorreu com Ana Carolina e com Nathalia tem nome. Para além do descaso, trata-se de violência obstétrica. Infelizmente, não é incomum a experiência desse tipo de violência no Brasil. De acordo com o estudo “Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado”, realizado pela Fundação Perseu Abramo, em 2010, uma mulher cada quatro enfrentou esse tipo de experiência. “É toda forma de violência perpetrada contra a mulher, durante o ciclo grávido-puerperal, portanto: pré-natal, parto ou abortamento, por qualquer profissional que está atuando no momento. Pode ser física, verbal, negligência de procedimento, tratamento rude e a realização de procedimentos desnecessários, sem indicação médica, rotineiramente somente com objetivo de agilizar o parto ou para tentar ‘limpar o plantão’. Às vezes, estamos no plantão, o médico rompe a bolsa de todas as pacientes ou aplica ocitocina (hormônio sintético) em todas, sem indicação e pode inclusive trazer danos. Outras vezes, nem há indicação de cesárea, mas inventa uma indicação esdrúxula só para não ter que ficar esperando o trabalho de parto ou engana a mulher, dizendo que o bebê está em sofrimento quando, na verdade, ele não está. Isso tudo pode ser interpretado como formas de violência”, explica a obstetra Leila Katz, uma das referências no movimento de humanização do parto, no Brasil e que atua em Recife. O estudo tem uma década de existência e é utilizado até hoje como referência, porque nenhum outro estudo, tão aprofundado, foi realizado. Aliás, na comunidade médica e para os especialistas ouvidos nesta matéria, há uma preocupação vigente: o tema parece ser evitado e, por conseguinte, não há outras estatísticas tão completas quando se fala a respeito.
Leila Katz pontua que há muitas discussões sobre a razão de a violência obstétrica estar tão arraigada no Brasil. “Está baseado na forma como o sistema médico está organizado porque é extremante machista e patriarcal. Por isso, impõe os seus procedimentos machistas e patriarcais para as mulheres. Essa forma de organizar a obstetrícia predispõe a violência obstétrica. O sistema tira a autotomia da mulher sobre o seu corpo e coloca a mulher como um agente passivo. Ela é vista como alguém que não é capaz de tomar decisões sobre o processo reprodutivo. E o médico toma a tutela do corpo dela para ele. Ele fica acima e toma as decisões para as mulheres. Não só profissionais médicos, as profissionais também. Como a origem está na Obstetrícia, então outros profissionais também praticam. É o modelo de obstetrícia que diz para a mãe parar de gritar, ‘na hora de fazer não achou ruim’, ‘que ano que vem estará de volta. O modelo vem disso. Os profissionais envolvidos praticam, reproduzem e deslegitimam a mulher”, analisa.
A proposta de humanização do parto no Brasil é muito discutida e nem sempre é bem vista pela classe médica e, uma das razões para isso, seria a subversão do modelo vigente. “O que há hoje é uma situação meio de ‘fábrica’, que está bem organizada. As cesáreas são marcadas é tudo bem controlado para que não atrapalhe os consultórios, o fim de semana, é uma coisa que garante financeiramente um controle maior da situação e digamos assim que uma qualidade de vida maior dos obstetras. Só que um parto é uma coisa que pode acontecer a qualquer dia e hora, sem controle, que pode demorar muito tempo. Numa assistência um a um, no modelo vigente que é muito centrado no médico, isso não é interessante para o sistema de hoje em dia. Para que a humanização funcione, não dá para manter o sistema particular em que cada mulher tem o seu próprio médico. É necessário restabelecer o sistema de plantões, quando a mulher em trabalho de parto procure, de forma desvinculada do pré-natal, o médico de plantão, e isso não é de interesse do sistema que está implantado” comenta Leila Katz.
Mesmo cercado de desinformações, o assunto parto humanizado vem sendo cada vez mais buscado. “Não basta a mulher estar de cócoras ou parir normal. Não é isso. A mãe é a protagonista do seu parto, faz as escolhas e participa como a verdadeira condutora do processo que ela está vivendo. Às vezes, há parto que aconteceu sem nenhuma intervenção médica, mas simplesmente porque não tinha ninguém que assistisse ao parto. Então, não significa que é obrigatoriamente humanizado. Se eu escolhesse uma palavra para caracterizar o parto humanizado, seria protagonismo. Porque a mulher é verdadeiramente a protagonista do evento” pontua.
Ou seja, há diferença entre métodos: parto normal é por via vaginal. Os partos naturais são vaginais e sem intervenção, mas não necessariamente serão humanizados. Enquanto que cesariana não é parto, mas uma intervenção cirúrgica para extrair o feto do útero. Com a popularização da humanização do parto, uma outra categoria de profissional entrou em evidência: a doula. “Em tese, é estar à disposição de mulheres no período gravídico-puerperal. Porém, atualmente, auxilia emocionalmente e fisicamente no trabalho de parto, auxilia a família a se preparar para a chegada do bebê, informa e orienta sobre possíveis violências que a gestante pode sofrer e em alguns casos interfere para que estas sejam evitadas. Além disso, esse suporte traz benefícios a gestante como: partos menos dolorosos, trabalhos de partos mais curtos, menor risco de interferências mecânicas e invasivas (uso de fórceps ou vácuo), reduzindo o número de cesáreas desnecessárias e parto violentos. A doula possui papel informativo e combativo a epidemia de cesáreas desnecessárias e da necessidade de mulheres identificarem violências e buscarem na medida do possível um parto respeitoso e adequado”, esclarece Dennyse Sousa, estudante de Enfermagem e doula, destacando ainda que o termo advém do grego e significa “mulher que serve”.
A vontade de ser doula surgiu ainda na adolescência, a partir de uma palestra que assistiu no ensino médio que falava de violência obstétrica. “Surgiu a necessidade de fazer algo que auxiliasse no processo de informação, de trocar ideias com mulheres e ajudá-las a identificar e não naturalizar violências”, fala a estudante. Ela até tentou outro curso de graduação, mas acabou mudando para a Enfermagem. “O objetivo era de me movimentar na Academia de alguma forma para que a assistência a mulheres não fosse tão racista e precarizada. E a presença de profissionais humanizados, com diálogos racializados, que ouvissem as narrativas dessas mulheres e pautassem suas pesquisas de modo combativo, seria de grande progresso. Somente no 9º semestre da faculdade consegui me formar doula e trazer a essa ocupação uma abordagem também racializada, já que este serviço, infelizmente é elitizado e o número de mulheres que têm acesso a ele é irrisório. Mesmo que tenha sido aprovado o projeto de lei, que garante o acesso das doulas nas maternidades de Belém mediante certificado do curso, adentrar as maternidades segue sendo difícil” analisa Sousa.
Ela destaca que as mulheres negras são as mais afetadas negativamente em todos os serviços de saúde, tanto público como privado em comparação a mulheres brancas. “60% das mortes maternas são de mulheres negras, sendo que 90% delas são por causas evitáveis, o que nos faz pensar que, a negligência médica influenciada pelo racismo deixa mulheres negras mais vulneráveis. ‘Mais vulneráveis’, pois antes do trabalho de parto, mulheres negras são as que menos têm tempo de consulta, tendo seu pré-natal fragilizado”.
Humanizar é combater a violência
Segundo a professora e pesquisadora da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal do Pará, Márcia Simão Carneiro, o parto humanizado seria uma maneira de combate à violência obstétrica. “Se o modelo de parto normal humanizado, de fato, se efetivasse do pré-natal ao puerpério nos serviços públicos e privados, alinhado às ações legais de combate a violência obstétrica, sem dúvida seria uma das estratégias para redução desse tipo de violência contra a mulher. Porém, para que esse modelo humanizado seja ampliado e oferecido pelos serviços, é preciso além da vontade política, o envolvimento dos governos estaduais, municipais, gestores de saúde, ministério público, profissionais, entidades de classe, organizações não governamentais, instituições formadoras de ensino superior e médio e sociedade em geral”.
Ela cita que há mais de vinte anos são implantadas ações ministeriais que objetivam incentivar o parto normal, reduzir as condutas intervencionistas e promover o respeito ao protagonismo e autonomia da mulher. Dentre algumas ações, estão o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (2000), a Estratégia Rede Cegonha (2011), as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal (2017/2018). “Apesar de todas as investidas ministeriais de incentivo ao parto normal, na prática dos serviços, a humanização do parto e nascimento depende dos gestores, do comprometimento, conhecimento e condições fornecidas às equipes profissionais. Humanizar o parto é respeitar o tempo e escolhas, requer conhecimento técnico e habilidades interpessoais, envolve paciência, infraestrutura e trabalho em equipe, e isso requer custos e disponibilidade” analisa.
Panorama de partos no Pará e no mundo
Na contramão de todos esses esforços para incentivar o parto normal, o governo do Estado do Pará sancionou, em janeiro deste ano, a Lei 9.016 que dispõe sobre a garantia de a gestante escolher pelo parto cesariano (sic), a partir da 39ª semana de gestação, bem como a analgesia, mesmo quando a escolha tenha sido pelo parto normal.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza que entre 10% e 15% dos nascimentos há necessidade de cirurgia cesariana. No entanto, os dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil vive uma epidemia de cesáreas, com 55% de nascimentos via cirurgia. Em hospitais particulares, essas taxas podem se aproximar a 84%. “A cesárea, há décadas representa um excelente recurso tecnológico para salvar vidas de mulheres e bebês que necessitam. Porém, não há evidências científicas que comprovem benefícios da utilização dessa cirurgia em mulheres e crianças sem problemas prévios que indiquem indicação. Trata-se de um procedimento cirúrgico que apresenta riscos tanto para a mãe quanto para o recém-nascido. Para mãe, devido a cirurgia ser invasiva e de grande porte, pode favorecer as hemorragias uterinas e infecções puerperais, responsáveis pela segunda e terceira causas de mortalidades maternas no Brasil. Essas consequências também podem afetar gestações futuras, pois a cicatriz uterina deixada por uma cesárea poderá influenciar na fixação do novo óvulo fecundado e causar dores, sangramentos, ameaça de abortos, etc”, comenta Márcia Simão Carneiro.
Segundo a pesquisa “Nascer do Brasil”, realizada publicada pela Fundação Fiocruz em 2014, quase 70% das brasileiras desejam o parto normal no início da gravidez, dado que contraria a epidemia de cesáreas, no país. “É imprescindível compreender que essas opções pela cesárea sofrem influências históricas dos desfechos mal vividos durante o parto normal por inúmeras mulheres. O modelo de parto normal intervencionista, sem dúvidas, deixou um legado para milhares de mulheres e famílias que resultou na representação social do parto normal como sinônimo de sofrimento, dor, violência, abandono, medo e morte” pontua a professora. Citando pesquisador e médico Michel Odent, ela convida para a uma reflexão: “Odent nos orienta a acreditar na força do parto normal e nascimento e seus reflexos para a constituição do ser humano nos diversos aspectos de vida e destaca ainda a importância da preservação do primeiro ambiente do ser humano, o útero, para com esse exemplo, respeitemos a nossa casa em comum que é o planeta Terra”.
A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), no dia 03 de fevereiro, solicitando dados sobre partos na última década, os números de cesáreas e de partos e os números referentes às mulheres negras. No entanto, por meio da Assessoria de Comunicação, no dia 12 de fevereiro, recebemos a seguinte nota: “A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informa que, segundo dados Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), em 2019 foram registrados 67.613 partos naturais e 69.079 partos cesarianos (sic)”.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA